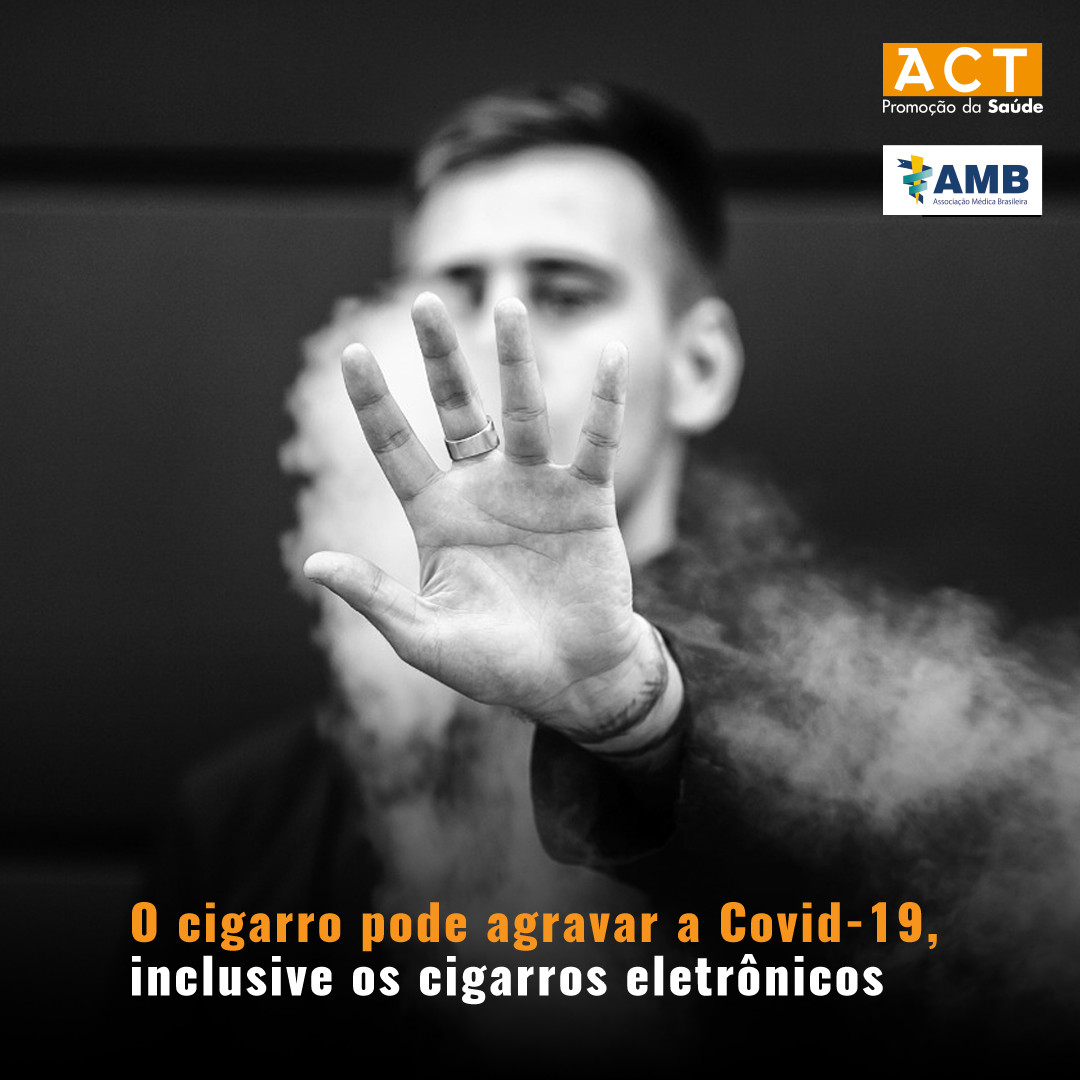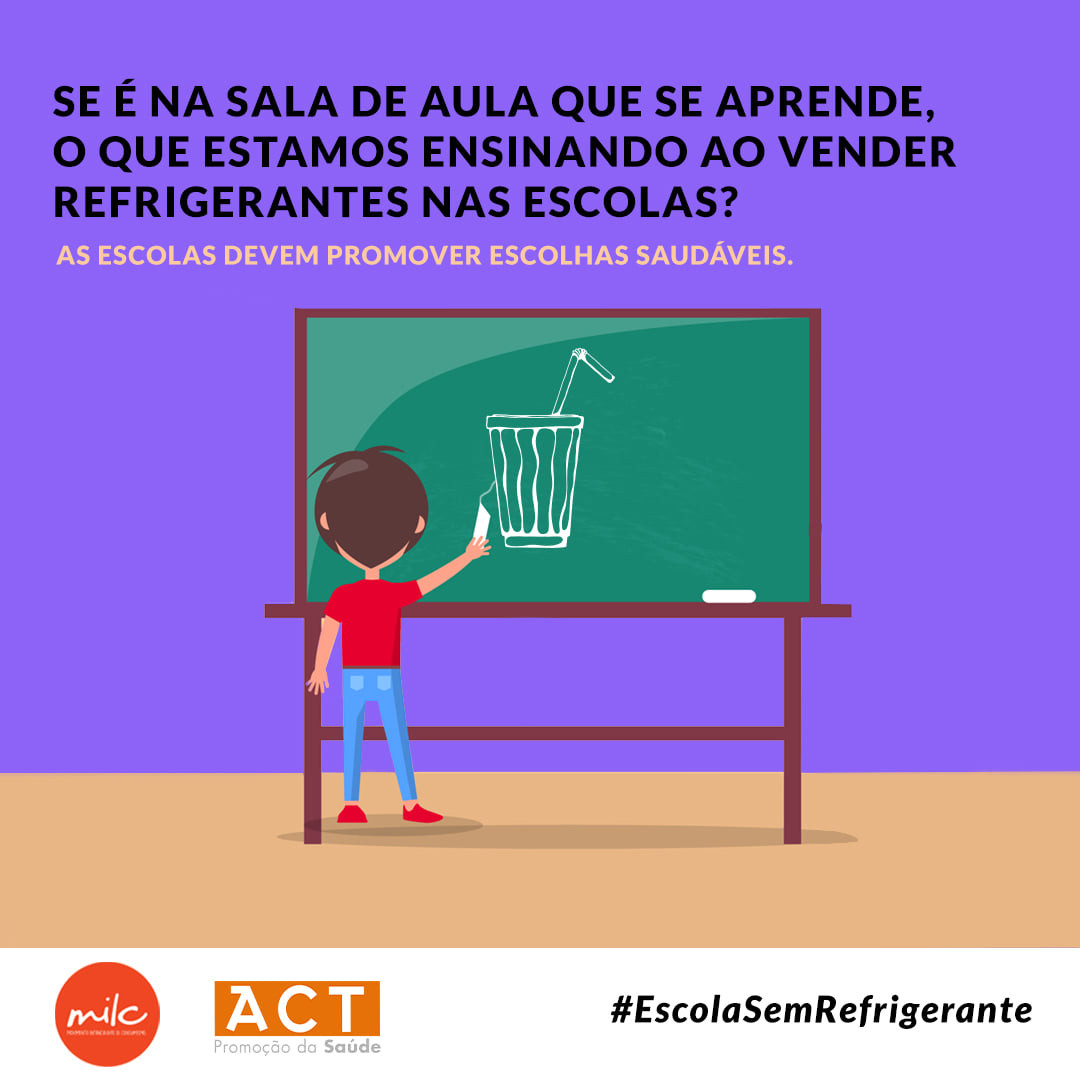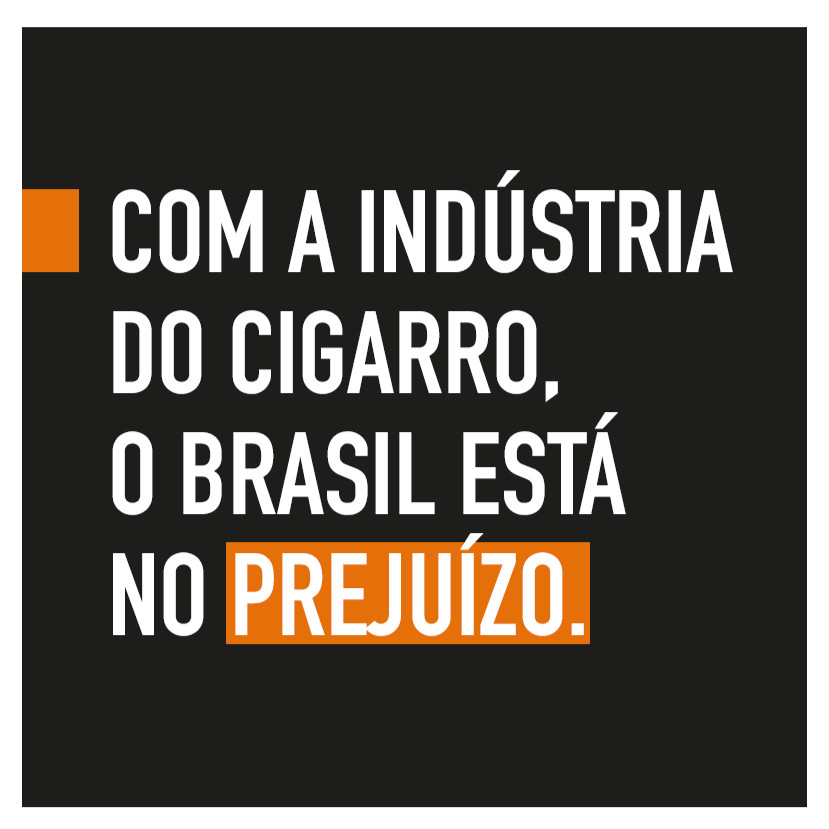Cessão de ‘naming rights’ como mercantilização de patrimônio cultural
13.04.22Jota
Toponímia é a divisão da onomástica que estuda os nomes geográficos ou topônimos, ou seja, denominações próprias de lugares, sua origem e evolução; é considerada uma parte da linguística, com fortes ligações com a história, a arqueologia e a geografia[1]. Com o passar do tempo, o uso reiterado das designações atribuídas espontaneamente às localidades as consagram, firmando-as como importantes patrimônios imateriais dotadas de inúmeros significados.
Assim, os topônimos inevitavelmente tornam-se “referências simbólicas dos processos e dinâmicas socioculturais de invenção, transmissão e prática contínua de tradições fundamentais para as identidades de grupos, segmentos sociais, comunidades, povos e nações” [2]. Sendo parte do patrimônio cultural brasileiro, a Constituição Federal exige sua proteção pelo poder público (artigo 216, §1º).
Os nomes de lugares identificam entidades geográficas de diferentes tipos e representam valores culturais insubstituíveis de importância vital para a sensação de bem-estar e de pertencimento das pessoas ao território. Daí decorre seu grande valor social e sua condição de patrimônio imaterial relacionado a nosso ambiente geográfico e cultural. A sociedade deve assumir a responsabilidade de cuidar do patrimônio toponímico e de fazer com que o planejamento de topônimos seja realizado de forma a preservar a funcionalidade desse acervo e a proteger o patrimônio cultural que ela representa numa sociedade em rápida mudança[3].
Numa cidade como o Rio de Janeiro, fundada por portugueses em 1565 em local habitado por povos indígenas havia milhares de anos, topônimos consagrados ajudam a compreender sua história. Nomes tupis como Guanabara, Tijuca e Maracanã; portugueses, como Gávea, Vasco da Gama e Benfica; católicos como Glória, São Cristóvão e Santo Cristo; e até franceses como Villegagnon.
Características de sua topografia inspiraram os nomes dos bairros da Tijuca, Lapa e Rio Comprido. Antigos moradores da cidade estão representados na toponímia carioca, como Leblon, Rodrigo de Freitas e Vidigal. O racismo – que certamente explica a escassez de nomes africanos – não impediu que afrodescendentes como Machado de Assis e os irmãos Rebouças fossem homenageados; mas a pouco lembrada escravidão originou o nome do bairro da Abolição.
A partir desses poucos exemplos, pode-se afirmar que, embora de forma imperfeita, parte significativa da história carioca está representada nos nomes de seus bairros, logradouros e vias.
Justamente pela relevância dos topônimos como marcos ou referências na realidade urbana, muitas empresas passaram a ver na atribuição de nomes corporativos a edifícios, estádios esportivos e espaços institucionais uma oportunidade de fazer publicidade. A negociação dos direitos à denominação, ou naming rights, surgiu assim como transação financeira pela qual uma empresa ou outra entidade adquire o direito de nomear um estabelecimento ou evento, normalmente por um período de tempo definido, como forma de publicidade. Consiste, em suma, na contraprestação financeira paga pelo direito de explorar a denominação de um bem com fins publicitários.
No início de 2021 os cariocas foram surpreendidos com a alteração do nome da estação de metrô Botafogo, inaugurada em 1981 e situada no coração do bairro homônimo, que passou a se chamar Botafogo-Coca-Cola. O contrato de concessão confere à concessionária direito genérico à exploração de fontes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, sendo esse o pretexto usado para a cessão de naming rights.
No entanto, muitos questionamentos éticos e legais devem ser feitos.
Dada a essencialidade do sistema de transporte metroviário para a mobilidade nas grandes metrópoles, suas estações representam uma referência fundamental, autênticos marcos na topografia urbana (talvez mais até do que muitas vias e logradouros públicos). E, como não poderia deixar de ser, para fins de facilitar a localização dos passageiros, suas denominações sempre adotam os nomes dos bairros e logradouros tradicionais onde se situam, contribuindo assim para reforçar o significado desses topônimos.
No mundo inteiro é assim: as estações de metrô são denominadas a partir de topônimos preexistentes – que pelo uso contínuo, às vezes secular, tornaram-se referências consagradas – como modo de auxiliar a orientação dos usuários, a eles habituados. Desse modo, embora relativamente novas no cenário urbano, as estações acabam incorporando e revigorando valores seculares de grande relevância cultural e histórica para a população por meio de seus nomes.
É razoável permitir uma interferência ditada por interesses empresariais nessa lógica que concilia admiravelmente aspectos práticos e histórico-culturais? Razões éticas não deveriam prevalecer para que os topônimos legados pelas gerações passadas sejam preservados imaculados para as futuras gerações?
Os geógrafos urbanos usam o termo “mercantilização toponímica” para se referir à reformulação de nomes do espaço público promovida pelo setor privado. E denunciam essa prática porque ela interfere na continuidade histórica de bens culturais de natureza imaterial que possuem relevância para a memória, a identidade e a formação da sociedade brasileira.
Embora no passado os nomes pareçam ter surgido espontaneamente, com base em denominações populares criadas a partir de elementos identificadores ou referências das vias, logradouros e localidades (Rua do Ouvidor, Largo do Paço, Rua da Quitanda e, provavelmente, Bairro do Botafogo [4]), mais tarde a atribuição de denominar passou a ser incumbência oficial do poder público, objeto de regulação legal não apenas por motivos práticos, mas também pela constatação de que os topônimos são parte integrante de nossa herança cultural, de significativa relevância histórica[5], havendo portanto interesse público em sua preservação.
Dada essa relevância dos topônimos como patrimônio histórico-cultural, e para evitar abusos, a liberdade para a atribuição de nomes é restringida por leis municipais, valendo-se o município de dupla competência legislativa constitucional: para legislar sobre assuntos de interesse local e para promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local (incs. I e IX do artigo 30 da CF).
Tratando-se de competência do município, e não havendo lei que autorize sua comercialização, a denominação de próprios, vias e logradouros públicos apresenta-se com res extra commercium: prevalece a ideia de que nosso patrimônio cultural simplesmente não está à venda[6]. Inúmeros preceitos estabelecem parâmetros seja para a preservação de nomes consagrados e icônicos, seja para impedir que critérios arbitrários, indevidos e/ou oportunistas interfiram na denominação de vias e logradouros, em prejuízo do patrimônio toponímico. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, na denominação de vias e logradouros procura-se “realizar homenagens cívicas, bem como colaborar na concretização da memorização da história e da proteção do patrimônio cultural imaterial do município” (STF, RE 1151237/SP).
Se a lei atribui ao município a competência para a denominação de vias e logradouros públicos, somente este pode legalmente fazê-lo, atendendo aos critérios da legislação em vigor. Em outras palavras, a atribuição de nome a logradouro público é atividade legislativa-administrativa municipal que não pode ser praticada por terceiros sem expressa delegação ou previsão legal específica.Nesse contexto, a denominação de estações de metrô historicamente praticada pelo Estado, ou por suas concessionárias, deve ser considerada antes uma tolerância do município diante da razoabilidade que até pouco vigorava na escolha de nomes do que uma competência legal estadual.
Além disso, a atribuição de nome comercial ou marca de empresa caracteriza publicidade ilegal porque implica desrespeito ao valor ambiental encerrado naquele tradicional topônimo. Com efeito, ao regular a publicidade o CDC (artigo 37, §2°) considera abusiva aquela que desrespeita valores ambientais, e o nome tradicional de estação constitui patrimônio cultural ambiental[7].
Cabe ainda questionar a cessão de direito à denominação pelo poder público (ou por suas concessionárias) quando a cessão resulta na promoção publicitária de produto ultraprocessado incompatível com a segurança alimentar e nutricional. Ora, é inconcebível que o Estado promova alimento obesogênico como o refrigerante, considerado “nutricionalmente desbalanceado” pelo Guia Alimentar para a População Brasileira[8].
A partir do princípio da legalidade, outros questionamento são pertinentes para aferir a licitude da cessão pelo MetrôRio: Existe autorização legal específica para a exploração de naming rights de estações? Há previsão editalícia específica (no edital de concessão do serviço de transporte metroviário) prevendo essa receita?
A Lei Estadual nº 2.869/97, que dispõe sobre o regime de prestação do serviço público de transporte metroviários no estado do Rio de Janeiro, prevê no artigo 6º-H, em numerus clausus, as receitas passíveis de arrecadação pelas concessionárias, sem admitir a cessão do direito de denominação das estações.
Além de expressa e específica previsão legal, imperativo ainda que a receita alternativa esteja prevista no edital de licitação. Com efeito, a Lei 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, admite a possibilidade de a concessionária explorar outras fontes provenientes de receitas alternativas desde que haja previsão no edital (artigo 11). Nesse sentido o entendimento do STJ (REsp 1812506/SP).
Resta concluir, portanto, que é ilegal a contratação envolvendo cessão de direito de denominação sem previsão específica da respectiva receita em lei e no edital de licitação da concessão.
No livro O Que o Dinheiro Não Compra (2012) Michael Sandel aponta a necessidade de estabelecermos limites morais para a interferência do dinheiro fora das transações tipicamente mercantis, questionando especificamente a mercantilização dos chamados naming rights. E questiona o professor: Não há algo de errado com um mundo em que tudo está à venda?
Ao permitir o aviltamento de nossos topônimos, o poder público deixa de proteger nosso patrimônio cultural, descumprindo determinação da Constituição Federal (artigo 216, §1º).
[1] Wikipedia, verbete Toponímia.
[2] Patrimônio Imaterial, Verbete, in IPHAN Dicionário do Patrimônio Cultural, Letícia C. R. Vianna
(http://portal.iphan.gov.br/
[3] Cf. Eighth United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names. Berlim, 2002. Toponymic education and practice and international cooperation: existing education and practice – The social and cultural value of place names, p. 2.
[4] A origem do nome do bairro de Botafogo remonta ao Século XVI, e é atribuída a João Pereira de Sousa, proprietário de terras ali situadas que recebeu essa alcunha por ter sido chefe da artilharia do famoso galeão de guerra português conhecido como O Botafogo.
[5] Gilberto Freyre apresenta excelente exemplo dessa ligação com o passado ao lembrar que “Os nomes mais antigos de ruas acusam sobrevivência, no Brasil, do sindicalismo ou do medievalismo das cidades portuguesas. Rua dos Toneleiros. Beco dos Ferreiros, Rua dos Pescadores. Rua dos Judeus. Rua dos Ourives. Rua dos Ciganos.” (Sobrados e Mucambos, Rio de Janeiro: Record, 9ª ed., 1996, p. 40).
[6] Marçal Justen Filho afirma que “não se admite que os locais e os espaços que apresentam relevância no processo histórico da Nação tenham a sua denominação alterada para inclusão de expressões destinadas a propiciar vantagens econômicas a entidades privadas” (A exploração econômica de bens públicos: cessão do direito à denominação, Revista de Direito da Procuradoria-Geral, Rio de Janeiro, edição especial, 2012, p. 231).
[7] O conceito de meio ambiente cultural já estava presente em julgado do STJ de 2002 (RESP 115599-RS).
[8] Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. 2ª edição, Brasília-DF, 2014, pp. 39 e 87. (https://bvsms.saude.gov.br/
Marçal Justen Filho considera condição contratual “a compatibilidade da cessão (do direito à denominação) com o regime jurídico do bem público”. E explica: “exige-se a compatibilidade entre o nome adotado e a imagem intrínseca do bem público em questão e a função administrativa em geral. Não será admissível, então, a denominação relacionada a atividades que não comportam fomento estatal. Logo, por exemplo, não caberá adotar denominação relacionada a bebida ou fumo, eis que nenhum bem público e nenhuma atividade administrativa pode ser orientada a prestigiar esses produtos” (Op. cit., p. 235).
João Lopes Guimarães Júnior – Advogado e procurador de Justiça aposentado do MP-SP